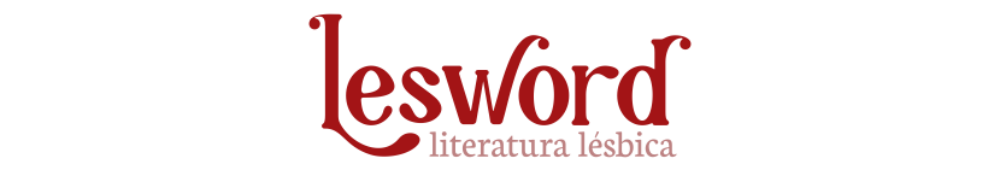O que importa quando a manhã nasce? Frida Khalo, em seus Diários, diria que é a não ilusão. Mas como manter a fagulha crepitando sem um pouquinho que seja de ilusão?
De uma ilusão a outra, quando a manhã nasce o céu segue atravessando todos os tons da luz, e eu – que sempre tive o hábito de levantar ainda no escuro – fico aqui no meu canto testemunhando a cada minuto a chegada do azul. E há manhãs em que o azul é tanto que chega a doer dentro de mim.
É o cheiro da flor de lavanda que fica mais intenso quando o sol aparece e evapora o orvalho que insistiu em amanhecer, é a sabiá-laranjeira que faz chegar até mim a sua excitação misturada com melancolia, é o ruído – bem longe – de um carro, é um cão que late para o nada, é o gosto amargo do café na minha boca, é uma lembrança e uma expectativa, tudo isso uma manhã me traz.
No entanto, na semana passada, além destes elementos e sensações tão familiares, a manhã me trouxe algo inesperado, me trouxe o passado, um passado inacabado.
Tudo poderia ter corrido na mais completa normalidade se não fosse eu ter esquecido de comprar o leite. Eu poderia ter ficado em casa, regado as plantas, feito um mate para tomar enquanto passava os olhos pelas mídias sociais ou por algum desses jornais alternativos, mas eu havia esquecido o leite. Para mim, que não bebo leite, não faria diferença alguma, porém eu havia começado a bater um bolo e o leite era imprescindível para terminá-lo de maneira adequada. Sem pensar muito, troquei de roupa, deixei o bolo começado sobre a pia, fechei a porta de casa e fui à lojinha que havia duas quadras para baixo.
A lojinha, na verdade, era um mercadinho mais para médio do que para ‘inho’, um empreendimento que foi crescendo no mesmo ritmo do bairro. Olhei no relógio para ver as horas. Será que já estaria aberto?
Estava, e para minha surpresa tinha um número considerável de clientes andando pelos corredores. Peguei minha cestinha e fui ao leite, mas como uma ida ao mercado nunca sai conforme o planejado, quando dei por mim já havia quatro itens na cestinha, e de acordo com meus passos, minha mente ia se lembrando que precisava disso e daquilo. E foi numa das voltas pelos corredores que a vi parada em frente a uma banca de maçãs. Há quanto tempo não a via? Uns dez anos? Provavelmente mais. A única reação que tive foi me colocar atrás do display de pão, era largo o suficiente para que coubesse duas de mim.
Ela apertava uma por uma as maçãs, ainda não perdera essa mania horrível. Estava um pouco mais gorda. Gorda não, com os quadris mais largos, o que era normal, afinal estávamos envelhecendo. Usava um vestido que ia até um pouco acima dos joelhos, numa cor de açafrão. O cabelo sim, esse estava completamente diferente, curtinho. Um curto que me fez lembrar a Audrey Tautou. Por detrás dos pacotes de pão – que balançavam devido a minha intromissão – consegui ver as covinhas, que eu conhecia tão bem, quando ela virou de lado e pôs o carrinho em movimento.
O que estaria fazendo no mercado? Teria mudado para perto? Deveria ir cumprimentá-la? Não, o melhor seria terminar minha compra e tentar sair dali sem ser vista. Começava a me arrepender de ter inventado essa história de bolo, poderia muito bem passar o dia sem isso.
Desviando pelos corredores cheguei ao caixa, o último da fila, o que ficava quase na saída. Coloquei minhas coisas na esteira e esperei o cliente da frente terminar, quando levantei os olhos ela estava lá, dois caixas adiante do meu.
Estava de costas para mim. Melhor assim, não saberia o que dizer se nos colocássemos frente a frente. Assim como não soube o que dizer quando ela sumiu da minha vida. O que acontecera conosco fora um caso, uma transa mal acabada, uma paixão de poucos meses? Até hoje não sei responder, mas durante aquele período ela foi tudo para mim.
Quando ela, simplesmente, não voltou mais, quando sumiu sem deixar rastro, me senti usada, me senti despedaçada, me senti traída. No entanto, agora com ela ali, diante de mim, sendo vista sem ver, minha perspectiva era outra.
Quem estava ali não era a menina que anoitecera comigo, mas não amanhecera. Era uma mulher feita, tentando colocar o sabão em pó dentro de uma sacola plástica, visivelmente encalorada e nervosa. Sim, nervosa, pois de segundo em segundo olhava o relógio de pulso, e foi numa dessas olhadas furtivas que vi a argola no dedo da mão esquerda.
Era uma aliança de ouro, daquelas grossas. Afinal, o que eu esperava, que ela estivesse sozinha todos esses anos? Ela terminou de empacotar, colocou tudo no carrinho e saiu, quando passou por mim eu virei de costas para que não me visse.
Finalmente, passei minhas compras e saí com a minha sacolinha. Ela ainda estava no estacionamento, colocando as compras no carro e, agora, não tinha como desviar.
Ficou parada me olhando, com uma mão segurando a sacola com ovos e a outra fechando o porta-malas. Meu embaraço não foi menor, não sabia onde colocar as mãos, se a cumprimentava ou não, se mudava de direção ou continuava no meu caminho.
“Oi! Que surpresa!” Foi ela quem falou primeiro. “Você ainda mora no mesmo bairro?”
Retribui o cumprimento e disse que sim, que ainda não tinha desistido do bairro, apesar dos pesares, que eram muitos.
Ela disse que eu estava bem, que não mudara nada, e quando parecia querer alongar a conversa, uma das portas do carro abriu e de lá saiu um homem alto, quase careca e de terno preto. Me cumprimentou com um aceno de cabeça e a chamou, dizendo que estava atrasado e que se ela quisesse carona até o salão teriam que se apressar. Não usou um tom agradável, me acenou novamente com a cabeça e entrou no carro. Para ser gentil, convidei-a para aparecer em minha casa quando quisesse, o que eu sabia que não ia acontecer, nem eu queria isso.
Subi a rua ouvindo a sabiá que agora dava seus últimos acordes, pois o sol já estava alto. Pensei na massa do bolo que iria para o lixo, no livro que tinha para acabar, no banheiro para limpar, na não ilusão da manhã e no sorriso que se formava dentro de mim.
Quando foi que nos conhecemos? Foi numa tarde de fevereiro, logo depois do feriado de carnaval. Eu havia voltado de um retiro na Serra, alguma coisa que misturava yoga, tradições orientais e silêncio. E o silêncio foi tanto que voltei para a cidade com uma vontade louca de falar.
O horário do expediente já tinha acabado e eu caminhava a esmo pelo centro, olhava as vitrines, as crianças que passavam de mãos dadas com as mães a caminho de casa, o indefectível e indestrutível palhaço que há anos fazia ponto em frente ao bondinho e as cadeiras da choperia que tomavam conta de uma boa parte do calçadão. Eram 6hs da tarde e o calor estava insuportável, precisava, acima de tudo, de um chopp gelado, mas as mesas estavam todas ocupadas. Fiquei ao lado de uma moça, esperando que desocupasse uma mesa.
“Vai desocupar aquela da ponta.” O garçom disse olhando para mim e depois para a moça, sem saber a quem oferecer a mesa.
“Se você não se importar, podemos dividi-la.” Ela me disse com um sorriso no rosto. “Para mim não será nenhum incomodo.”
Sentamos e compartilhamos a mesa, o final de tarde, três chopps e a cama por quatro meses. Como, e sobretudo quando, uma coisa foi levando a outra é difícil dizer. Há situações na vida que vão se formando, nos enredando e quando nos damos conta já estamos. Não que tenha sido ruim, ao contrário, foi bom e poderia ter sido melhor se um dia ela não tivesse partido deixando apenas um bilhete de “boa sorte na vida.”
Se naquela época alguém me perguntasse pelo quê eu sofria e, acima de tudo, como eu poderia estar sofrendo por algo que durou tão pouco tempo, provavelmente eu teria esmurrado tal pessoa, apesar de nem mesmo eu saber o porquê de tanto sofrimento, talvez fosse por eu sempre ter acreditado que paixões fulminantes causam mais danos do que anos de um amor calmo.
Eu sempre soube que nosso caso tinha um prazo de validade, como todos os casos têm, mas eu também sei que um dia vou morrer, e mesmo assim não quero que esse dia chegue, pois sinto medo do depois. Da mesma forma, eu senti medo quando ela se foi.
O bairro, a casa, o mercadinho, as árvores, tudo ficou com uma marca dela. Para onde eu olhava havia sinais, aqui nós caminhávamos, aqui nós fazíamos compra, aqui nós sentávamos para tomar o mate, aqui nós, tantas vezes, fizemos amor.
De modo que, por um tempo impreciso, a minha ocupação diária era esperar que o telefone desse um sinal de vida, que o carteiro passasse, que a campainha tocasse. Eu tentava não morrer cada vez que ouvia algum barulho no portão da frente, pode parecer dramático, o típico drama lésbico, mas era exatamente assim que eu me sentia.
Pedi uma licença do trabalho e me recolhi em casa, e se ela voltasse e eu não estivesse ali? Foram dias que se transformaram em semanas, as quais eu costumo chamar de uterinas. Foram dias em que eu descobri que a depressão existe, ela não é apenas uma palavra usada para descrever uma grande tristeza.
Porém, algo, ou alguém dentro de mim dizia: ‘vai passar, tu sabe que vai passar. Talvez daqui uma semana, um mês, ou mais alguns dias.’ E talvez tenha sido essa constatação quase cruel – de que tudo passa, tanto as coisas boas quanto as ruins – que me empurrou uma manhã para o sol, para a rua, para uma estrada que não fosse a dela.
E foi numa manhã, sentada num banco da pracinha perto de casa, enrolada num cachecol que dava muitas voltas, com o calor do sol me aconchegando, que pensei: ‘estou contente outra vez’.